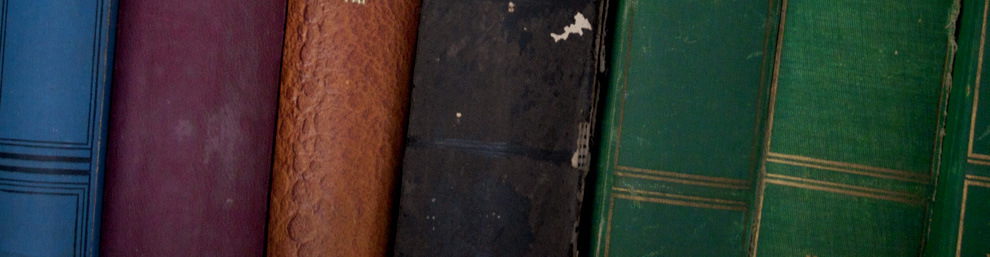VIVER A LITERATURA
Claudio Willer
Querem uma definição de cronista? Dos cronistas realmente bons, daqueles excelentes? São autores que não se satisfazem com limites. Inclusive, com os limites entre os gêneros literários tradicionais, aqueles tidos como maiores: poesia, narrativa em prosa. Querem sempre ir além, escrever outra coisa. Viajar pela criação. Exemplar, sob este aspecto, é Paulo Mendes Campos: suas crônicas atropelam as definições de gêneros.
Por maior que seja sua evidência, por mais que se façam presentes no periodismo — ou talvez por isso, pela imprensa periódica ser ao mesmo tempo tão evidente e perecível — cronistas são marginais da literatura. Ou, quando se consagram em outros gêneros, as crônicas vão integrar a marginália de suas obras. Veja-se Drummond: foi preciso transcorrer uma geração de leitores para que se dessem conta do alcance do que publicava periodicamente.
Uma das crônicas deste Viver é fictício, sobre São Paulo, tem valor como metáfora: a autora visita os lugares “bons” da metrópole, mas nenhum a satisfaz. “Não amo lugar algum em São Paulo”, declara. É impelida a mover-se, do Theatro Municipal à Praça do Por do Sol, para acabar aportando à sua própria subjetividade: “O amor que eu tanto procurava não estava preso a lugar algum”. É alguém no trânsito e perpetuamente em trânsito. A mesma relação que mantém com a escrita, bem evidenciado em “Semeando constelações”: na terceira pessoa, encarna a declaração de Rimbaud, “O EU é um outro”, ao apresentar uma protagonista no limiar da loucura — “Os meses seguintes foram levando a sua lucidez” — que promove a irrupção de incríveis imagens poéticas em seu relato: “as dores são pássaros ininterruptos do cantar”.
Lisboa, onde tem residido, aparece como contraponto à ciclópica e desgastante São Paulo. Mas, justamente, por sua condição de mínima capital política e máxima capital literária, lugar onde se lê e se escreve tanto e tão bem, por tangenciar o impossível, por ser lugar de confusão do simbólico e do mundo das coisas, ou onde o simbólico toma a frente: “Há, pois, um lugar que transcendeu sua existência para atravessar as distâncias insuportáveis da poesia”. O mundo cabe no Tejo Bar.
Um autor exemplar sob esse aspecto, da permanente inquietação, por ser tão atópico — e muito bem lido por Mariana Portela — é Julio Cortázar: sempre, ao estar em uma das modalidades ou gêneros, quer estar em outro. Ao relatar uma história, precisa das imagens poéticas; ao poetizar, adiciona imagens visuais; em alguns dos seus livros, a página é pouco, tem que permutá-las ou cortá-las; e, em qualquer um dos seus modos de expressar-se, conclama a música, gostaria que seus textos fossem sonoridades que, tarefa impossível, tenta traduzir em palavras. Por isso, celebrou tanto o jazz, gênero que, especialmente na vertente bop, mimetiza inflexões e entonações da língua falada — e seu expoente Charlie Parker foi tema de um conto especialmente impactante, “O perseguidor”, assim como ouvir discos de jazz suscitou alguns dos pontos altos da prosa poética no século XX em Rayuela, O jogo da amarelinha. Cortázar, tão bem homenageado e mimetizado aqui, inclusive em “Instruções para matar um fantasma”, texto breve que, bem ao modo do argentino, se contradiz, apresenta paradoxos: além de ser impossível matar fantasmas, eles fariam falta se efetivamente fossem mortos, pois “nenhum corpo humano é capaz de apagar uma estrada” e, ademais, “Fantasmas são, via de regra, ótimas companhias oníricas, devoradores de madrugadas”.
Confronte-se essa crônica com outra, imediatamente precedente: “O colecionador de saudades”. Talvez Viver é fictício não deva ser lido linearmente, porém ao modo de um jogo — assim seguindo a recomendação de Cortázar — e as sequências possíveis engendrem outras narrativas, outras conexões. O confronto das duas crônicas sugere que para colecionar lembranças e, portanto, ter saudades, os fantasmas são indispensáveis.
Imediatamente a seguir, após a mimese de Cortázar, outra homenagem: “Clarice Lispector, minha” — como se já não houvesse tantas marcas da sua leitura, através de passagens como esta: “esquecemos o cheiro incompreensível de existir”; e não houvesse títulos que são paráfrases da autora de Felicidade clandestina.
O narrador ingênuo apresentaria imediatamente o tema: diria algo sobre suas emoções, evocações ou o que fosse, relacionadas à leitura de Clarice. Mariana, não — abre escrevendo sobre tomar café às três da madrugada. Em seguida, declara-se possessiva — “Não suporto conceber que há outros livros por aí, que não seja o meu A descoberta do mundo” — para concluir expondo uma poética, a declaração de que leu muito, apaixonou-se por algo do que leu, e dedicou-se ao empreendimento de confundir literatura e realidade; ou de experimentar a contradição entre as duas esferas, do mundo das coisas e aquele dos símbolos. A opção é pelo simbólico: “A sua voz, Clarice, reside única dentro dos meus olhos e não posso ferir minha imaginação com a realidade”. Uma esquizofrênica? Não, uma viajante por dois mundos, pela intersecção possível da “voz”, do símbolo, e o das coisas.
É assim que Viver é fictício enfrenta os desafios da crônica, o gênero injustamente rotulado como “menor”, que se confunde com o relato e a prosa poética, mas pode ser literatura total, absoluta. O lugar daqueles que não querem ferir a imaginação com a realidade. Inclusive, através de dois dentre os autores especialmente apreciados, referências diria, para ela: Clarice Lispector e Paulo Mendes Campos — ambos mencionados e homenageados neste conjunto, ao lado de outras presenças fortes; especialmente a do Fernando Pessoa / Bernardo Soares, integrando um leque que se abre desde Mario Quintana até Gaston Bachelard. Aliás, aí está outra qualidade desta cronista: exibe paixões literárias, sem tornar-se sentenciosa, sem usá-las como amparo ou justificativa.
Uma chave para sua leitura está neste início de “O colecionador de saudades”: “Eu gostava mesmo de escrever em terceira pessoa”. Isso, lembrando que os portugueses — e Mariana Portela tem residido em Lisboa — confundem os tempos verbais, e “gostava” pode significar “gostaria”. Mas não, nesta crônica que mimetiza um conto, que simula um relato, a objetividade naufraga — e com ela também a subjetividade, como esferas autônomas: “Levo meu espírito para abrigar outra identidade. Crio um semi-heterônimo. Sem passado algum”. A crônica expõe uma poética: “Eu já não me serei”, diz. A criação literária é para quem é e não é, está e não está aí. A extrema lucidez e a loucura podem confundir-se — Mariana simula a loucura ao exibir sua penetrante lucidez.
E assim nos oferece a gama completa das possibilidades de expressar-se. Combina e harmoniza o registro da subjetividade, manifesto através de uma prosa poética de imagens luminosas e a falsa confessionalidade dos narradores. Em primeira instância, seu compromisso ou seu envolvimento mais profundo é com a literatura; com uma experiência poética por vezes apresentada como antagônica com relação ao real, a uma realidade imediata — certamente, a uma realidade prosaica — mas que cria a realidade, ao iluminar experiências, os lugares, as pessoas e as coisas através do olhar poético.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2018.